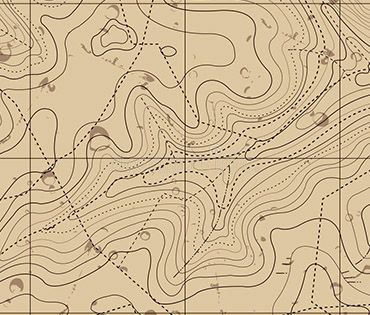Fogo cruzado, memória apagada
Na madrugada da terça-feira, 24 de agosto de 2021, foi incendiado o monumento ao Descobrimento do Brasil, no Rio de Janeiro, no bairro da Glória. A escadaria e a base ficaram com marcas de fogo, mas o grupo escultórico em bronze não sofreu danos maiores. O ato iconoclasta teve o propósito de protestar contra o Projeto de Lei 490, que determina mudanças na demarcação de terras indígenas no Brasil e cria o chamado marco temporal, segundo o qual os povos originários só teriam direito a ocupar terras em que viviam à época da promulgação da Constituição em 1988. Os dizeres pichados e afixados ao pedestal, “Marco temporal é genocídio. PL490 não”, não deixam dúvida quanto ao sentido político da ação, cuja autoria foi reivindicada por um grupo nomeado Coletivo Uruçu Mirim. No dia seguinte, o grupo se explicou nas redes sociais: "Mais um monumento escravocrata e genocida foi incendiado. Queimamos a estátua de Cabral para destruir tudo que ele simboliza ainda nos dias atuais, em protesto contra o Marco Temporal e o genocídio indígena continuado”.
Ajuizar o mérito dessa ação iconoclasta é complexo, mesmo para quem concorda com a causa abraçada por seus autores. Por um lado, há uma tendência a enxergar com simpatia toda e qualquer defesa dos povos indígenas, acossados ao longo dos últimos anos pelo desmonte sistemático de seus direitos constitucionais. Por outro, existe a preocupação legítima com o patrimônio histórico e artístico, já tão combalido. A radicalização entre as duas posições tende a se manifestar por meio de discursos simplistas. Os partidários da ordem vociferam contra o vandalismo, invocando o fato de que dano e incêndio à propriedade são crimes. Porém, esses arautos da Lei tendem a silenciar perante outros crimes, ainda mais graves, como o assassinato de ativistas em conflitos rurais. Já a turma da insurgência gosta de festejar toda e qualquer ação de destruição como ato libertário, desconsiderando que o quebra-quebra fere a existência de quem não concorda com ele. O patrimônio público é de todos, e o direito de um termina onde começa o do outro. Não há nada de democrático em fazer justiça com as próprias mãos, nem mesmo quando o alvo é de pedra e bronze.
Entre esses extremos, grassam sofismas e discursos falsamente ingênuos. Há políticos que se dizem a favor da causa defendida, porém se afligem com os custos de limpeza e restauração dos monumentos depredados. Não raro, são os mesmos que pouco se incomodam com cortes de verbas para órgãos de preservação, em nome da contenção de gastos. Só lembram do patrimônio histórico quando ele serve como pretexto para alimentar polêmicas. Outros criam uma falsa equivalência entre o apreço às obras de arte e o ódio aos seres humanos. Na sequência do ataque de agosto, o perfil do Instituto Marielle Franco publicou em suas redes sociais a foto do monumento incendiado com o comentário: “E o pior é que ainda vai ter gente preocupada mais com a vida da estátua do que com as vidas indígenas assassinadas e perseguidas há 521 anos nessa terra”. Há quem se preocupe com ambas as coisas. Esse tipo de dicotomia falsa só serve para desvirtuar o debate.
É sempre esclarecedor acompanhar a repercussão midiática dos episódios de iconoclastia, ainda mais na era atual de militância instagramável. O ataque de agosto foi amplamente noticiado pela imprensa, mas repercutiu bem menos nas redes sociais do que o incêndio da estátua de Borba Gato, em julho de 2021, em São Paulo, ação que inspirou a do Rio. Para um olhar histórico, o aspecto mais espantoso da cobertura jornalística foi o desconhecimento demonstrado com relação ao autor da escultura, Rodolpho Bernardelli. De modo quase unânime, os jornais o qualificaram de “escultor mexicano”. Até mesmo a Folha de S.Paulo cometeu essa barriga (como são chamados os erros no jargão jornalístico). Fiando-se em informações incompletas, desterraram um dos dez maiores nomes da história da escultura brasileira.
Filho de um casal de artistas italianos, residentes no México à época do seu nascimento, Rodolpho Bernardelli viu a luz pela primeira vez em Guadalajara, de fato. Toda sua formação e carreira artística transcorreram, entretanto, no Brasil. Ninguém no México reclama seu nome para o panteão artístico daquela nacionalidade. Basta um mínimo de conhecimento de história da arte brasileira para saber que Bernardelli foi o mais destacado escultor do Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX, autor de obras famosas em sua época (Cristo e a mulher adúltera, Faceira, Moema, entre outras) e alguns dos monumentos mais conhecidos da então capital federal (por exemplo, as estátuas do General Osório, na Praça XV de Novembro, e de Carlos Gomes, defronte ao Teatro Municipal). Foi também figura de peso no ensino artístico brasileiro, reformador da Escola Nacional de Belas Artes após a Proclamação da República e seu diretor por 25 anos. Mantinha, em conjunto com seu irmão Henrique Bernardelli (pintor nascido no Chile, todavia sem ser chileno), um ateliê que formou grande número de artistas de princípios do século XX – aí incluída uma quantidade notável de artistas mulheres.
A julgar pela cobertura do incêndio de agosto, noventa anos após sua morte, Rodolpho Bernardelli virou “o famoso quem?”. Mais um nome apagado de uma lista interminável de olvidos, omissões, ausências. No Brasil, não há reputação artística que resista à má vontade e ignorância da posteridade. Cantores e atores que arrastavam multidões há algumas décadas, hoje são objeto do mais absoluto desconhecimento. Escritores e artistas incensadíssimos em seu tempo mal conseguem ser contemplados com uma reedição ou uma exposição retrospectiva. É o que Franklin de Oliveira chamou de morte da memória nacional, mote justo de mais um autor injustamente esquecido (embora lembrado recentemente, nas páginas desta revista, por Paulo Knauss).
A situação é tão grave que até mesmo as instituições encarregadas de preservar o patrimônio histórico e artístico amargam uma ficha corrida de violências contra a memória cultural. O caso emblemático desse paradoxo foi a recusa, na década de 1970, do então Dphan (hoje, Iphan) a tombar o Palácio Monroe, no Rio de Janeiro, entre outros prédios remanescentes da construção da Avenida Central. O notório parecer de Lúcio Costa, de 1972, não somente deixou de impedir sua destruição como a encorajou. “O desafogo da área se impõe,” escreveu o arquiteto decano da preservação do patrimônio construtivo brasileiro, condenando por capricho de gosto não somente esses edifícios, como outros exemplares do ecletismo Brasil afora, que teriam se beneficiado do precedente de um parecer positivo.
O apagamento da memória pelos poderes constituídos não é prerrogativa brasileira. Na longa e intrincada história da iconoclastia, os responsáveis pelo maior volume de destruição são os governantes e reformadores, bem mais do que os pequenos vândalos. É o que Dario Gamboni chamou de “vandalismo embelezador”. Napoleão III em Paris, Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, Benito Mussolini em Roma, entre tantos outros, causaram mais estrago ao tecido histórico de suas respectivas cidades do que séculos de delinquentes, invasores e desastres naturais. A restauração é frequentemente o melhor pretexto para se remover aquilo que se tacha de espúrio ou corrompido. São muitos os edifícios despojados de sua história em nome de uma pureza de concepção. Por vezes é justificável; outras, não. A dificuldade é determinar o que tem, ou deixa de ter, valor artístico ou histórico. Em retrospecção, é fácil identificar os erros e exageros, mas a coisa é mais complicada no calor da hora.
O que dizer, então, do calor dos incêndios? Numa cidade que viu um de seus maiores patrimônios culturais, o Museu Nacional, arder em fogo em 2018, qualquer estátua chamuscada dá arrepios. Ainda mais quando se trata de um monumento cujo valor histórico e artístico é indiscutível. Nenhum historiador da arte, em sã consciência, negaria a importância de Bernardelli para a escultura no Brasil. Do mesmo modo, concorde-se ou não com a temática representada, ninguém pode deixar de reconhecer que o monumento ao Descobrimento do Brasil é objeto de relevância histórica. Como todo monumento, ele revela muito mais sobre o momento em que foi construído, 1900, do que sobre o episódio que pretende representar, ocorrido quatro séculos antes.
Afirmar que o Brasil foi “descoberto” pelos portugueses é uma visão deturpada e evidentemente unilateral. Para os povos que habitavam essa terra antes de 1500, a chegada dos exploradores foi antes um cataclismo do que um descobrimento. A rigor, não é somente a noção de ‘descobrimento’ que precisa ser colocada entre aspas. Mesmo após a invenção do nome ‘Brasil’, a comunidade imaginada da nação levou alguns séculos para se firmar. O momento em que Pedro Álvares Cabral desembarcou no litoral próximo a onde hoje é Porto Seguro, na Bahia, só passou a constituir o ‘Descobrimento do Brasil’ na visão retrospectiva dos colonizadores. É inegável, no entanto, a influência exercida por esse conceito. Até para confrontá-lo é preciso ter consciência do modo como foi construído. Aí reside a importância histórica do monumento, pois ele ajuda a elucidar como essa ideia foi elaborada e por que veio a exercer o fascínio que exerce.
O monumento foi erigido em conjunção com as comemorações cívicas do quarto centenário do suposto descobrimento. As fotografias da inaguração, no dia 3 de maio de 1900, mostram uma grande multidão reunida na praça defronte ao antigo Mercado da Glória, o qual seria derrubado poucos anos depois. Para a inauguração, foi construído ainda um arco de triunfo duplo, em estilo neomanuelino, encimado pela esfera armilar com cruz, símbolo do império português. Só por esse detalhe já se adivinha a importância do evento para a comunidade lusa, então o principal grupo imigrante do Rio de Janeiro, respondendo por quase um quinto da população da cidade.
Os jornais da época realçaram que as comemorações foram dominadas por festejos populares, alegria e expansão. A ocasião foi tida por muitos como prova das realizações do país – não menos em termos de seu desenvolvimento artístico – e como presságio de tempos melhores. Essas fontes primárias, fotografias e jornais, confirmam que, no momento de sua construção, o monumento foi percebido como uma afirmação de orgulho coletivo e de pertencimento à nacionalidade. Por mais que hoje possa parecer anacrônico ou distanciado da realidade cotidiana, em seu tempo ele foi representativo de anseios legítimos da população carioca.
Os monumentos costumam ser erigidos por quem está no poder e como expressão desse poder. Por isso é difícil encontrar uma escultura pública que represente posições contestatórias ou libertárias. Contudo, não é impossível. No Rio de Janeiro, o monumento a Zumbi dos Palmares é um exemplo – muito embora tenha sido rejeitado, de início, por setores do movimento negro. O exercício do poder nunca é simples numa democracia, e as negociações em torno da construção de monumentos refletem a complexidade de conciliar grupos e interesses. Há quem seja contra eles, de modo genérico, e deseje a derrubada de todos. É uma posição coerente, porém extremista. Para quem detém uma visão mais matizada da questão, é necessário avaliar caso a caso os méritos e deméritos de cada obra.
Quem fez o monumento? Para quem foi feito? Qual é a mensagem que ele buscou transmitir? Esse significado se manteve estável ao longo do tempo ou se transformou? O que significa a obra nos dias de hoje? Ela possui valor artístico ou histórico? São questões complexas, cuja resposta requer um conhecimento aprofundado do contexto cultural. Reduzir o monumento ao personagem que ele representa é tão simplista quanto julgar um livro por seu assunto. Mesmo uma biografia – o gênero literário mais passível de comparação com os monumentos, por tratarem ambos da consagração histórica – pode ser crítica do biografado.
Em seu comunicado, o Coletivo Uruçu Mirim afirmou ter queimado “a estátua de Cabral para destruir tudo que ele simboliza ainda nos dias atuais”. A dúvida é se o monumento realmente simboliza a ideologia “escravocrata e genocida” que os iconoclastas lhe imputaram. A vasta maioria dos motoristas que passa ali na Avenida Augusto Severo ou no Aterro do Flamengo, a noventa quilômetros por hora, não deve perder tempo ponderando a questão. São eles o público principal da obra atualmente, depois que as sucessivas reformas urbanas transformaram aquele trecho da cidade (logradouro oficialmente designado Praça N.S. da Glória) num quadrilátero deserto entre avenidas movimentadas, ermo e quase despovoado de pedestres.
Muito mais do que o genocídio indígena, o monumento ao Descobrimento do Brasil hoje representa o abandono histórico do Rio de Janeiro e o descaso com seu passado cultural. Os moradores de rua que acampam e dormem sobre os degraus pouco devem se inquietar com os versos de José Bonifácio ali transcritos: “Qual a palmeira que domina ufana / os altos topos da floresta espessa / tal bem presto há de ser no mundo novo / o Brasil bem fadado”. Pobre José Bonifácio! Não é fácil sonhar com o Brasil bem fadado. Mais sorte teve talvez Bernardelli, que ainda pode se passar por mexicano e fingir que o assunto nem é com ele.
É falso contrapor o apagamento da memória coletiva ao apagamento cultural dos povos originários. Não há oposição aí; antes, são dois lados da mesma moeda. As forças políticas que buscam ativamente subtrair terras indígenas para a expansão da mineração e do agronegócio são as mesmas que se dedicam, ano após ano, ao desmonte das universidades e dos museus, da educação e da cultura, da pesquisa e da ciência. O conhecimento histórico é uma ameaça ao projeto de espoliação e subjugação da vontade popular, pois um povo que não conhece seu passado tem menos condição de defender seus direitos no presente. Desconstruir a memória social é uma violência simbólica. Não há nenhum sentido em minorá-la pela comparação com a violência física. Ambas são maléficas, e uma costuma ser ligada à outra. O apagamento da história cria condições que facilitam o extermínio de pessoas.
No caso específico do monumento ao Descobrimento do Brasil, estaria errado o raciocínio que associa o desembarque de Pedro Álvares Cabral ao genocídio indígena? Não, em termos abstratos, não está. É plausível argumentar que a ideia de descobrimento implica no direito de reivindicar a terra descoberta e, portanto, serviu de pretexto para justificar a colonização portuguesa com todas as suas consequências nefastas para os povos originários. Cabral, por mais secundário que seja como agente desse processo, representa seu marco inicial e, por conseguinte, há certa lógica em se opor à continuada glorificação de um episódio passível de ser lamentado por muitos.
O argumento faz sentido, no abstrato. No entanto, os monumentos existem no concreto. Há um abismo de mendacidade intelectual que separa a estátua de Cabral na Glória da glorificação de Cabral. Primeiramente, porque quase ninguém dá importância a esse monumento. A vasta maioria sequer saberia dizer quem são as figuras homenageadas pelas estátuas ao topo. Em segundo lugar, porque os poucos que dão valor à obra (como o autor destas linhas) o fazem não pelo assunto que representa, mas por suas qualidades artísticas. Em terceiro lugar, porque o legado histórico desse monumento é, antes de tudo, a história da destruição do lugar onde está posto.
A iconoclastia de agosto, na Glória, foi o que poderíamos apelidar de erro essencial de monumento. A prova dos nove é sua falta de eficácia. Comparada ao eletrizante incêndio do Borba Gato, no mês anterior, pouco repercutiu nas redes sociais, campo de batalha maior da presente guerra cultural. Tampouco teve qualquer efeito demonstrável sobre os rumos políticos do PL 490. O momento escolhido para o ataque foi a véspera do reinício da votação no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da tese do marco temporal. Os ministros do STF, reunidos no ar condicionado da distante Brasília, pouco sentiram o calor das ruas maltratadas do Rio.
É de se perguntar, aliás, o que levou o Coletivo Uruçu Mirim a escolher como alvo um monumento na velha e sofrida cidade de São Sebastião. Existe outro monumento a Pedro Álvares Cabral no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, inaugurado em 1988 e desprovido do pedigree histórico e artístico que valoriza a obra de Bernardelli. Melhor ainda: já que o alvo era o STF, não teria feito mais sentido atacar um objeto em Brasília? A impressão que fica é que a escolha recaiu sobre o monumento da Glória porque era presa fácil – perto, ermo, desprotegido. Em termos de iconoclastia, é o equivalente a chutar cachorro morto. ///
Este artigo foi originalmente publicado na Revista Comunicação e Memória, da Memória da Eletricidade, na edição Nº4/ 2021.
Referências bibliográficas:
Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, Memória da destruição: Rio, uma história que se perdeu, 1889-1965 (Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2002).
CONDURU, Roberto. “Zumbido alegórico – o monumento no Rio de Janeiro e outras representações de Zumbi dos Palmares”, In: Pérolas negras, primeiros fios: Experiências artísticas e culturais nos fluxos entre África e Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Uerj, 2013.
“Estátua de Pedro Alvares Cabral é incendiada na zona sul do Rio”, Folha de S. Paulo, 25/08/2021; https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/08/estatua-de-pedro-alvares-cabral-e-incendiada-na-zona-sul-do-rio.shtml.
GAMBONI, Dario. The Destruction of Art: Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution. Londres: Reaktion, 1997.
KNAUSS, Paulo (org.) Cidade vaidosa: Imagens urbanas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1999.
KNAUSS, Paulo. “Morte e vida da memória nacional”, Comunicação e Memória, 1/2 (junho 2021); https://revistacm.memoriadaeletricidade.com.br/post?id=42.
RODRIGUES DOS SANTOS, Cecília. “Lucio Costa: problema mal posto, problema reposto”, Arquitextos, 10/ 115.1 (dezembro 2009); https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.115/2.
WEISZ, Suely de Godoy. “Rodolpho Bernardelli, um perfil do homem e do artista segundo a visão de seus contemporâneos”, 19&20, 2,/4 (outubro 2007); http://www.dezenovevinte.net/artistas/ rb_sgw.htm.